Empresas familiares convivem com conflitos recorrentes entre familiares envolvidos na gestão, na sociedade empresarial e nas decisões do negócio. Esses conflitos raramente se apresentam de forma direta ou objetiva. Costumam emergir em temas aparentemente menores — uma contratação, uma remuneração, uma decisão operacional — e passam a consumir tempo, energia e atenção de maneira desproporcional à complexidade do tema.
Aqui, o conflito deixa de ser um problema isolado e passa a funcionar como um sinal.
Na prática, o conflito quase nunca é a causa central do problema decisório. Ele atua como sintoma: um gatilho que reativa disputas históricas, diferenças não acolhidas ou mal tratadas, e tensões que nunca encontraram um lugar legítimo para serem elaboradas. Por isso, retornam.
Quando o conflito é observado de perto, percebe-se que decisões aparentemente simples se tornam complexas e intermináveis. O verdadeiro desafio não reside na discussão técnica do tema, mas nas múltiplas camadas de identidade, emoções e poder que o atravessam. Em empresas de irmãos, a convivência física intensa costuma adensar relações conflituosas que transbordam para a geração seguinte. Essa geração seguinte, que dá origem à chamada empresa de primos, herda conflitos ocultos que contribuíram para o distanciamento físico e, sobretudo, relacional — empobrecendo e diluindo a coesão familiar. Em ambos os casos, a ausência de instâncias legítimas para tratar diferenças agrava o quadro.
O problema se aprofunda quando a organização confunde papel e afeto. Pais e mães passam a decidir como provedores, protetores ou guardiões da família — e não como acionistas ou líderes institucionais. A igualdade é invocada para negar a equidade; a sucessão é tratada como prova de sofrimento, e não como processo estruturado de formação e desenvolvimento de competências. Nesse contexto, o cuidado pode atravessar um ponto de inflexão: quando a decisão deixa de ser construída a partir de escuta sistêmica e passa a ser imposta por convicções individuais, o cuidado se transforma em captura do sistema.
Governança começa a fazer sentido exatamente nesse limite.
Essa captura se manifesta na dissociação entre poder formal e poder real. Colegiados passam a operar de modo meramente ritualístico; gestores ocupam posições figurativas; decisões são tomadas previamente às reuniões. A estrutura institucional existe, mas a legitimidade decisória não. Para preservar equilíbrios afetivos, instala-se a chamada dívida simbólica: mecanismos de compensação emocional substituem critérios institucionais. A proteção pode recair sobre qualquer familiar cuja frustração ameace o equilíbrio do sistema — independentemente da posição ocupada. Cargos e silêncios passam a preservar vínculos afetivos em detrimento do processo decisório.
O silêncio, por sua vez, não é apenas uma escolha tática. É herança cultural intergeracional. Para os tradicionalistas, silêncio foi valor e obediência; para os boomers, respeito; para a geração X, pragmatismo; para os millennials (Y), algo engolido e questionado; para a Gen-Z, algo a ser recusado. O que foi aprendido como virtude converte-se em padrão organizacional, dificultando a nomeação do poder real e a convivência legítima com opiniões contraditórias, sem o risco de que isso seja visto com deslealdade.
Sem diálogo, não há governança efetiva.
Sem capacidade de nomear papéis, poderes e responsabilidades, não há governança possível.
É nesse ambiente que o improviso se consolida como padrão oculto. Decisões críticas passam a ser tratadas sem critério normativo estável. A sucessão vira evento — tabu maior quando envolve o fundador — e não processo. A remuneração transforma-se numa “fauna” casuística de puxadinhos, com camadas misturadas e pouco compreendidas. Investimentos são conduzidos por fé e redes informais; capital aportado carece de critérios claros de retorno e acompanhamento. Conflitos societários confundem-se com conflitos familiares: irmãos não se veem como sócios; a monocracia histórica se replica e resiste.
Os custos dessa dinâmica são conhecidos — ainda que muitas vezes normalizados. Há corrosão emocional da confiança e da coesão; custo estratégico, com paralisia decisória e vieses periféricos; impacto financeiro, com oportunidades perdidas e ineficiências; e custo reputacional, quando a marca não alcança a estatura simbólica do fundador. Ele permanece blindado como referência; a organização perde protagonismo, falando baixo para dentro e para fora.
Por que isso persiste? Não se trata de tolerância consciente. Trata-se de uma opacidade estrutural combinada ao medo do desconhecido. O sucesso passado legitima a informalidade; o sistema aprisiona. Quem está dentro raramente percebe a alternativa — e, quando percebe, teme executá-la.
Governança, portanto, não é promessa de harmonia. Não elimina o conflito. Ela cria instâncias, critérios e ritos capazes de acolher e tratar diferenças, o contraditório e verdades coexistentes. Para funcionar, exige algo além da arquitetura formal: vontade política e simbólica dos atuais detentores do poder. Essa liderança é a cola do sistema; sem ela, os ingredientes não aderem.
O grande salto ocorre quando a família aceita que o conflito não será resolvido no almoço de domingo. É o momento do click. O conflito não desaparece; muda de qualidade. Ele perde centralidade à medida que a compreensão se estabelece — em tempos distintos, para pessoas distintas. Nem todos saltam. Nem todos compreendem ao mesmo tempo. Essa é a complexidade do processo.
Empresas familiares não entram em risco por causa do conflito. Entram em risco quando não permitem que a geração seguinte participe daquilo que está sendo decidido por ela. Fundadores se relacionam com suas empresas como com um filho ou uma filha. Podem estar mais distantes, mas permanecem atentos — olhando, cuidando, acompanhando e apoiando. Entre a paixão de acompanhar e a sapiência de compreender o novo papel, nasce a governança.
Governança protege empresas familiares do improviso.
O improviso pode ter sustentado o passado – o futuro exige governança.



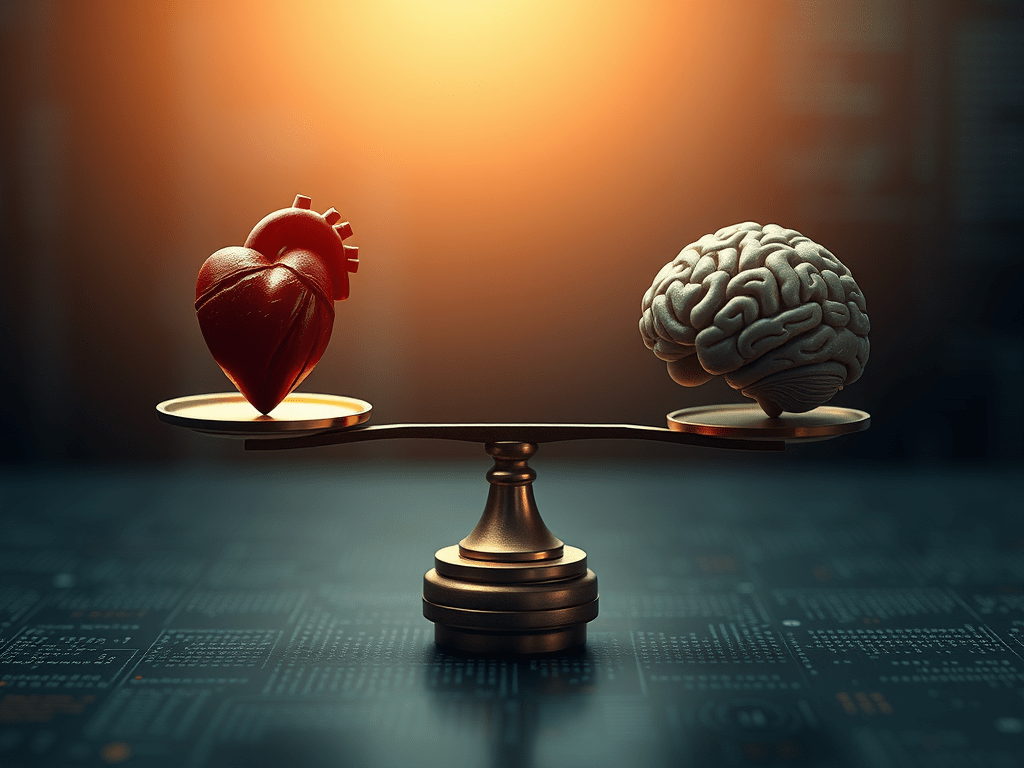
Deixe um comentário